Episódio 12 - Por que falamos pouco sobre os bastidores do trabalho acadêmico?
Hipóteses & Questionamentos
Oi gente, como estão? Espero que bem. Por aqui aquele caos de sempre, mas aos poucos tudo vai indo para o seu lugar. Após conseguir entregar 2 projetos antes dos prazos e orientar os mestrandos e doutorandos antes de uma viagem de trabalho, entrei numa espiral da vida adulta com uma série de demandas familiares e muitas burocracias que pareciam uma daquelas gincanas, vá em tal lugar, entre em tal aplicativo, ligue para tal número, porém a maior parte foi resolvida, felizmente.
Sim, por que não dá pra simplesmente fingir que estou no meu escritório fazendo pesquisa e preparando aulas - um sonho na minha vida é viver um dia na tal torre de marfim (se bem que a minha eu preferia que fosse de ébano) que falam que é de onde os pesquisadores escrevem sem interagir com a sociedade (risos nervosos).
Para mim isso é uma lenda urbana tal qual o Slenderman, a Loira do Banheiro e o Bebê Diabo. Nunca vi. Na vida em que vivemos é preciso estar no mundo real, o que inclui dar atenção à família (até antipulgas em 5 gatos eu precisei passar essa semana).
Mas enfim, queria começar essa cartinha comentando que recebi muitos feedbacks positivos que estão me inspirando a dar continuidade aos textos, mesmo que a correria do cotidiano às vezes me faça sentir exausta até para digitar algumas linhas. Um e-mail e uma conversa presencial me deixaram muito animada porque vejo que estou tentando e algumas vezes até acertando no tom por aqui.
Uma mestranda me disse que a série sobre as lacunas de pesquisa (não terminou ainda tá, é que estou intercalando) a fez repensar em sua formação “frustrante” como pesquisadora mesmo estando em um PPG bem avaliado - acho que a questão da avaliação por si só merece um texto.
Já uma outra mestranda me falou: “eu acho tão legal que você vai em shows”. Fiquei legitimamente feliz. Cada vez que escuto que as pessoas acham legal que eu - ou outros colegas, mas sobretudo mulheres- façamos coisas “não esperadas” por uma pesquisadora/professora universitária, isso me dá certeza de que caso eu largasse tudo hoje (ou morresse) meu legado estaria garantido e minha contribuição para as pessoas e para a área já teria se realizado.
Eu só quero que as pessoas percebam que elas podem ser quem elas são, gostando do que gostam, se vestindo como querem (e vivendo uma vida plena de diversão) e ainda assim terem um trabalho de pesquisa sério.
Muitas e muitas vezes eu escutei colegas falando em legado, mas sempre num tom solene (“dar continuidade a linha de pesquisa Y”) e por vezes cheio de soberba, o que incluia obrigar que as pessoas pesquisassem exatamente a mesma coisa que a pessoa e que atingissem as expectativas do orientador (normalmente aquele perfil que já conhecemos do “grande intelectual homem branco”). Acredito que esse espaço aqui da newsletter - e tantos outros - possam nos ajudar a trocar ideias e aos poucos deixar de lado essa ideia tão rígida de legado acadêmico. É por isso que sigo nesse trabalho de formiguinha.
A questão do trabalho é justamente meu tema de hoje, já que vi um tweet circulando sobre como os pesquisadores e professores falam pouco de seus próprios trabalhos. Falam muito de seus temas e objetos, mas poucos dos bastidores e de coisas por vezes parecem basicas como escolher uma revista para publicar ou qual GT é mais adequado ao seu tema e como fazer um bom resumo, coisas que venho tb da minha parte tentando trazer para cá.
O que vejo é muito mais doutorandos e recém-doutores tratando desse tema, ajudando colegas e até criando modelos de negócios em torno disso a partir de plataformas digitais (tem gente muita boa e séria, mas também tem picaretagem, cuidado ao contratar assessorias).
E ai a pergunta que salta aos olhos é porque em geral nós professores de pós falamos tão pouco disso? Tenho algumas hipóteses. Não acho que seja exatamente um bingo em que se marca tudo e também acho ruim generalizar, mas minhas hipóteses são baseadas em observações pessoais.
Falta de tempo e excesso de trabalho, afinal tem tanta coisa para ser feita (projetos, artigos, aulas, pareceres, eventos, comitês etc);
Arrogância e soberba por achar que isso não é tão importante como ensinar teoria e falar do alto do seu pedestal;
Não se identificar como classe trabalhadora e sim como algo a parte, o “intelectual”;
Desconhecimento sobre a mudança do perfil dos alunos que agora vêm de realidades e vivências muito distintas da que era no seu tempo e que muitos não fizeram Iniciação Científica ou tiveram uma relação tão estreita com pesquisa, muitos trabalham por muitas horas, etc etc;
Competitividade mesquinha;
Descolamento da realidade (e/ou preguiça) ao ponto de que por vezes nem ele mesmo se dedica a pensar de uma forma mais estratégica na própria carreira (ou refletir sobre “pequenos atos”), haja vista gente que atua ha mil anos em ppg e está sempre perguntando coisas básicas gerando um loop em reuniões de colegiado;
Simplesmente não liga, ou como diria minha amiga Dora, “pessoas pessoando”.
Essas hipóteses não são para apontar o dedo na cara de ninguém, mas para que a gente possa repensar sobre os porquês de silenciarmos sobre algo que afeta diretamente nossas vidas. Da minha parte tenho feito experimentos e tentativas. Muitos são frustrantes e outros tantos dão certo, mas estou sempre mudando os caminhos e métodos de como faço as coisas, além de compartilhar sobre esses processos e escutar como as outras pessoas lidam com isso.
Num primeiro momento dialogando com orientandos e laboratório de pesquisa; num segundo com outros colegas e num terceiro inventando coisas. Essa newsletter surgiu exatamente dessa inquietação. Mas podemos implementar pequenas ações mesmo em meio a cobranças, prazos e tal.
Um exemplo que queria destacar, minha colega de programa Isaaf Karhawi tem feito um trabalho interessante com os alunos em sua disciplina da pós, fazendo com que toda vez que se deparam com a leitura de um artigo de uma autora ou autor brasileiro, abram o CV Lattes e façam uma pequena observação a partir de uma proposta simples (que temas ele/ela está orientando, que bancas já participou, qual a formação dele/ dela, como esse autor poderia contribuir para a sua pesquisa) mas absolutamente funcional.
Um outro exemplo aparentemente banal foi incluir as fotos das pesquisadoras/es nos slides de aula/palestras / cursos sempre que possível (aprendi isso com o ex-designer que em geral faz meus ppts qdo não tenho tempo, meu marido). Além da humanização, isso faz com que alguns alunos mais visuais memorizem melhor quem fez tal discussão e consigam atrelar rostos aos conceitos. Além de evitar micos como por ex chamar a autora holandesa dos estudos de plataforma José van Dijck por um pronome masculino.
Em termos de gênero e raça essa pequena atitude por vezes também facilita a visualização já que quando citamos apenas o sobrenome isso não fica claro. Muitas pesquisadoras feministas tem algumas recomendações na escrita para isso como por ex citar o nome completo no texto pelo menos na primeira vez que citamos aquela autora.
Mas enfim, novamente me desviei do assunto pois não tenho respostas para a questão que formulei nesse título, apenas essas pistas/hipóteses que fui ouvindo ao longo desses anos. Por outro lado, percebo que alguns de nós tem se sentido mais a vontade em falar de temas que eram quase tabus por anos. Não há consenso, nem espero que haja, para temas tão complexos, mas vejo isso com uma pequena ponta de esperança.
A questão da defasagem dos salários tem trazido algum debate, bem como o fenômeno da “fuga de cérebros” para o exterior e a péssima tentativa de solução proposta pelo governo federal nos últimos dias; os debates sobre maternidade e vida acadêmica, mas ainda é preciso mais. É preciso encarar a pesquisa efetivamente como trabalho com direitos e deveres - o que inclui os bolsistas de todos os níveis.
É preciso repensar o volume imenso de trabalho gratuito que é feito e que impacta na produção e editoração das revistas. Enfim, é tanta coisa que eu seria incapaz de fazer uma lista. E claro, acho que é possível começar trocando essas experiências com estudantes e não os excluindo.
Acho que um primeiro passo é repensar nossa experiência e admitir que ninguém consegue dar conta de tudo e que a ideia utópica da tríade Pesquisa, Extensão e Ensino não é possível de ser realizada, ao menos não com qualidade. Eu não consigo fazer extensão por exemplo, nunca consegui. Não por falta de vontade, mas por motivos múltiplos que englobam tanto o tempo e a falta dele como foco em outros pontos e na própria vocação das universidades onde trabalhei.
Esse ano por exemplo tivemos uma mudança pequena, mas significativa com as alterações no sistema de Bolsa PQ (Bolsa de Produtividade) o que ocasionou que pela primeira vez os bolsistas de nível 2 (agora 1E) pudessem votar para o CA (Comitê de Assessoramento) do CNPq.
Aliás, seria muito legal se alguém fizesse um compilado com todas essas siglas utilizadas no sistema de pesquisa brasileiro e montasse um glossário explicando cada uma e como elas funcionam. Seria um ótimo exercício.
Como qualquer trabalho, o trabalho universitário é cheio de macetes, atalhos e de caminhos que levam tempo para serem assimilados. Quando se é novato na área, a sensação é de que precisamos sempre voltar duas casas no jogo ou de que estamos numa estrada bloqueada. A transparência em relação aos processos facilita a compreensão e as escolhas desses caminhos e nos dão ferramentas para melhorar nossos trajetos.
Para fechar esse texto em que trago mais questionamentos do que respostas, queria indicar um artigo. E se os editores de revistas científicas parassem? A precarização do trabalho acadêmico para além da pandemia dos colegas Thaiane Oliveira, Ariane Holzbach, Rafael Grohmann e Camilla Tavares, publicado em 2020 na revista Contracampo da UFF. Um texto necessário que atenta para pontos importantes no trabalho de revisão e editoração de periódicos científicos.
Como sempre, entrem em contato e tragam mais exemplos, dúvidas e experiências. Queria também agradecer porque essa singela newsletter atingiu hoje a marca de 100 assinantes. Obrigada <3











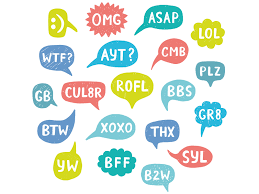

Professora, amei o texto. O que mais me chamou a atenção foi da parte da professora da pós que pede para aos discentes irem ao Lattes do artigo que estão lendo. Pode parecer irreal, mas tenho usado esse método há anos. Não somente com o Lattes, como também qualquer currículo de pesquisadores que penso poder contribuir na minha pesquisa. Talvez seja minha pequena obsessão com organização e sistematização de informações kkkkk. Um exemplo foi de eu ir numa Conferência Internacional no ano passado sobre K-Pop e verificar que a maioria dos palestrantes não tinha um único trabalho sobre a temática antes daquele evento. Novamente, agradeço por entrar no Linkedin 'atoa' e ter chegado na sua postagem, compartilharei essa necessidade de leitura para todxs.
Leitura inspiradora para dar continuidade nas minhas tarefas acadêmicas da semana. Preciso conhecer mais o trabalho da Issaaf Karhawi, já mencionaram inúmeras vezes o nome dela nas disciplinas que fiz no PPGCom da USP.
Amei a ideia de trazer as fotos dos pesquisadores, eu funciono muito bem com ilustrações. Agora dei uma risada sincera sobre a José Van Dijck porque já confundi ela com o Jan Van Dijk, haha!
No fundo, é isso: enquanto não olharmos a pesquisa acadêmica como um trabalho que precisa de direitos, deveres, garantias, designações, transparência nos processos, acho que os avanços serão tímidos.